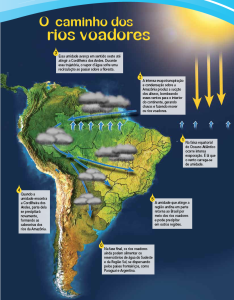Quem já fez uma viagem para regiões montanhosas ou praticou escalada, já deve ter percebido que nestas regiões é muito mais frio. Por exemplo, em locais como o Everest, que possui 8.848 metros de altitude, a temperatura atinge 30 graus Celsius negativos.
 |
| Everest. Fonte: Wikipedia.org |
Isso ocorre por diferentes fatores atmosféricos, especialmente a pressão do ar, a composição molecular e a pouca absorção dos raios solares. Para falar um pouco mais sobre o tema, convidamos a Ercília Torres, doutora em Ecologia pela Universidade de Brasília (UnB), professora e pesquisadora do Departamento de Geografia da mesma instituição, e autora do livro
Climatologia Fácil. Confira a entrevista completa abaixo!
Comunitexto: Os topos de montanhas e regiões mais distantes do nível do mar são muito frias. Segundo o seu livro
Climatologia Fácil, uma série de fatores como os elementos da atmosfera são os causadores deste clima. Conte um pouco sobre o papel dos gases neste sentido.
Ercília Torres: Para se ter uma ideia do papel dos gases na distribuição vertical da temperatura do ar, é necessário falar um pouco sobre a atmosfera, que é a camada de gases e material particulado que envolve a Terra.
A composição da atmosfera não é constante nem no tempo, nem no espaço. Contudo, se removêssemos as partículas suspensas, vapor d’água e certos gases variáveis presentes em pequenas quantidades, encontraríamos uma composição muito estável sobre a Terra, até uma altitude de, aproximadamente, 80 km, com nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, entre outros.
O nitrogênio e o oxigênio ocupam até 99% do volume do ar seco e limpo. A maior parte do restante, 1%, é ocupada pelo gás argônio. Embora estes elementos sejam abundantes, eles têm pouca influência sobre os fenômenos do tempo. A importância de um gás ou aerossol atmosférico não está relacionada à sua abundância relativa. Por exemplo, o dióxido de carbono, o vapor d’água, o ozônio e os aerossóis ocorrem em pequenas concentrações, mas são importantes para os fenômenos meteorológicos ou para a vida.
Embora constitua apenas 0,03% da atmosfera, o dióxido de carbono (CO2) é essencial para a fotossíntese e por ser um eficiente absorvedor de energia radiante (de onda longa) emitida pela Terra, ele influencia o fluxo de energia através da atmosfera, fazendo com que a baixa atmosfera retenha o calor, tornando a Terra própria à vida e à medida que subimos esse calor vai diminuindo.
O vapor d’água é um dos mais variáveis gases na atmosfera e também tem pequena participação relativa. Nos trópicos úmidos e quentes constitui não mais que 4% do volume da baixa atmosfera, enquanto sobre os desertos e regiões polares pode constituir uma pequena fração de 1%. Contudo, sem vapor d’água não há nuvens, chuva ou neve. Além disso, o vapor d’água também tem grande capacidade de absorção, tanto da energia radiante emitida pela Terra (em ondas longas), como também de alguma energia solar. Portanto, junto com o CO2, o vapor d’água atua como uma manta para reter calor na baixa atmosfera. Como a água é a única substância que pode existir nos três estados (sólido, líquido e gasoso) nas temperaturas e pressões existentes normalmente sobre a Terra, suas mudanças de estado absorvem ou liberam calor latente. Desta maneira, calor absorvido em uma região é transportado por ventos para outros locais e liberado. O calor latente liberado, por sua vez, fornece a energia que alimenta tempestades ou modificações na circulação atmosférica.
O ozônio (O3), tem presença relativamente pequena e distribuição não uniforme, concentrando-se entre 10 e 50 km (e em quantidades bem menores, no ar poluído de cidades), com um pico em torno de 25 km. Sua distribuição varia também com a latitude, estação do ano, horário e padrões de tempo, podendo estar ligada a erupções vulcânicas e atividade solar. A formação do ozônio na camada entre 10-50 km é resultado de uma série de processos que envolvem a absorção de radiação solar. A concentração do ozônio nesta camada deve-se provavelmente a dois fatores:
(1) a disponibilidade de energia ultravioleta e;
(2) a densidade da atmosfera é suficiente para permitir as colisões necessárias entre oxigênio molecular e oxigênio atômico.
A presença do ozônio é vital devido a sua capacidade de absorver a radiação ultravioleta do Sol. O átomo livre restante (na formação do ozônio) recombina-se novamente para formar outra molécula de ozônio, liberando calor. Na ausência da camada de ozônio a radiação ultravioleta seria letal para a vida.
Além de gases, a atmosfera terrestre contém pequenas partículas, líquidas e sólidas, chamadas aerossóis. Embora a concentração dos aerossóis seja relativamente pequena, eles participam de processos meteorológicos importantes. Alguns aerossóis funcionam como núcleos de condensação para o vapor d’água e são importantes para a formação de nevoeiros, nuvens e precipitação. Outros podem absorver ou refletir a radiação solar incidente, influenciando a temperatura do ar. Assim, quando ocorrem erupções vulcânicas com expressiva liberação de poeira, a radiação solar que atinge a superfície da Terra pode ser sensivelmente alterada.
CT: A absorção de calor nos diferentes níveis da atmosfera varia. A senhora pode falar um pouco mais sobre os motivos pelos quais isto ocorre?
ET: A atmosfera é subdividida em camadas, de acordo com o perfil vertical médio de temperatura. A camada inferior, onde a temperatura decresce com a altura, em função da diminuição da quantidade de gases, é a troposfera, que se estende a uma altitude média de 12 km. Nesta camada a taxa de variação vertical da temperatura tem valor médio de 6,5°C/km. Na troposfera as propriedades atmosféricas são facilmente transferidas por turbulência de grande escala e mistura. O seu limite superior é conhecido como tropopausa.
A camada seguinte, a estratosfera, se estende até aproximadamente 50 km. Inicialmente, por uns 20 km, a temperatura permanece quase constante e depois cresce até o topo da estratosfera, a estratopausa. Temperaturas mais altas ocorrem na estratosfera porque é nesta camada que o ozônio está concentrado. O ozônio absorve radiação ultravioleta do sol. Consequentemente, a estratosfera é aquecida.
Na mesosfera a temperatura novamente decresce com a altura (não há ozônio presente) até seu limite superior, a mesopausa, que está em torno de 80 km, onde atinge -90°C. Acima da mesopausa, e sem limite superior definido, está a termosfera, onde a temperatura é inicialmente isotérmica e depois cresce rapidamente com a altitude, como resultado da absorção de ondas muito curtas da radiação solar por átomos de oxigênio e nitrogênio. Embora as temperaturas atinjam valores muito altos, estas não podem ser comparadas àquelas experimentadas próximas a superfície da Terra. Temperaturas são definidas em termos da velocidade média das moléculas. Como as moléculas dos gases da termosfera se movem com velocidades muito altas, a temperatura é obviamente alta. Contudo, a densidade é tão pequena que muito poucas destas moléculas velozes colidiriam com um corpo estranho; portanto, só uma quantidade insignificante de energia seria transferida. Portanto, a temperatura de um satélite em órbita seria determinada principalmente pela quantidade de radiação solar que ele absorve e não pela temperatura do ar circundante.
Entre as altitudes de 80 a 900 km (na termosfera) há uma camada com concentração relativamente alta de íons, a ionosfera. Nesta camada a radiação solar de alta energia de ondas curtas (raios X e radiação ultravioleta) tira elétrons de moléculas e átomos de nitrogênio e oxigênio, deixando elétrons livres e íons positivos. A maior densidade de íons ocorre próximo a 300 km. A concentração de íons é pequena abaixo de 80 km porque nestas regiões muito da radiação de ondas curtas necessária para ionização já foi esgotada. Acima de 400 km a concentração é pequena por causa da extremamente pequena densidade do ar, possibilitando a produção de poucos íons. A ionosfera tem pequeno impacto sobre o tempo, porém, é nela que ocorre o fenômeno das auroras. As auroras estão relacionadas com o vento solar, um fluxo de partículas carregadas, prótons e elétrons, vindas do Sol com alta energia. Quando estas partículas se aproximam da Terra, elas são capturadas pelo campo magnético da Terra e descrevem trajetórias espiraladas ao longo das linhas de indução do campo magnético terrestre, movendo-se para frente e para trás entre os pólos magnéticos sul e norte, onde são “refletidas” devido ao aumento do campo magnético. Estes elétrons e prótons aprisionados constituem os chamados “cinturões radioativos de Van Allen”. Algumas partículas acompanham o campo magnético da Terra em direção aos pólos geomagnéticos, penetrando na ionosfera, onde colidem com átomos e moléculas de oxigênio e nitrogênio, que são temporariamente energizados. Quando estes átomos e moléculas retornam do seu estado energético excitado, eles emitem energia na forma de luz, o que constitui as auroras.
CT: Existem exceções em relação a estas regiões, por exemplo, alguma que seja mais quente do que outras montanhas?
ET: Desconheço algum caso em que, naturalmente, o topo de uma montanha apresente temperatura mais elevada.
CT: Quando se começou a estudar estes diferentes tipos de temperatura conforme a altitude?
ET: O nome da ciência Meteorologia tem origem em uma obra escrita por Aristóteles c. 340 a.C., “Meteorológica”, que reunia o conhecimento da época sobre clima e tempo. O desenvolvimento científico da meteorologia ocorreu a partir do século 16, com o desenvolvimento de equipamentos de medição como o termômetro e o barômetro. Porém, as investigações sobre variação de parâmetros meteorológicos ao longo da atmosfera começaram com os irmãos Montgolfier, inventores franceses, do século XVIII, dos balões de ar aquecido. Depois de terem feito sua famosa volta sobre Paris, em 1783, muitos outros balconistas subiram aos céus com aparelhos meteorológicos rudimentares para medir a temperatura da atmosfera. A diminuição gradual da temperatura do ar e da pressão atmosférica foi experimentada e relatada pelas primeiras vezes. Em seguida, James Glaisher, meteorologista inglês, juntamente com o balonista Henry Coxwel, escreveu “Travels in the Air” (1871), sobre suas pesquisas sobre a atmosfera a bordo de balões. A partir daí, o conhecimento sobre a atmosfera foi só aumentando.
CT: Por fim, a senhora acredita que ainda existam muitos fatores a serem descobertos ou estudados em relação às temperaturas conforme altitudes?
ET: Em minha opinião, apesar de já se ter avançado muito sobre o conhecimento da atmosfera terrestre, ainda há muito que investigar, pois a dinâmica relação entre Terra e atmosfera é muito complexa e nem todos os fatores envolvidos nessa relação são bem compreendidos ou até mesmo conhecidos.
Fonte da Informação: http://www.comunitexto.com.br/